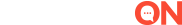A ESTÉTICA DO AVESTRUZ
A ESTÉTICA DO AVESTRUZ
“Quando a realidade está muito pesadelo, eu me refugio no sonho. Nem que seja no sonho de padaria.”
Este pensamento fútil fui eu que saquei, mas pode muito bem ter vindo no vento. Quanto do que pensamos é de fato nosso? Quanto do que preenche nossas massas encefálicas são moralidades exteriores pré-fabricadas?
Mas vamos ao prato do dia: avestruz em su tinta.
Há anos atrás escrevi a biografia de uma cidadã comum, uma paraense de nome Isabel, que quis legar a filhos, netos e bisnetos sua história por escrito. Em aprazíveis tardes regadas a açaí, em seu belo apartamento de Ipanema, gravador em punho, resgatei sua trajetória de esposa, mãe, avó e dona de casa abastada que, nos anos 50, pioneiramente, cursou a faculdade de Biblioteconomia. Com ela aprendi, entre outras coisas, o significado da palavra sibarita.
“Papai era um sibarita!”
Um dia, conversa fluindo solta, a bibliotecária me disse:
“Não assisto a noticiários. É cada história tão cabeluda, que eu prefiro não saber!”
Saí de sua casa com a pulga atrás da orelha: seria ela, uma senhora tão simpática e amorosa, uma egoísta de marca imersa em su tinta?
Passam-se os anos e leio entrevista no jornal com escritora acadêmica de fala pra lá de empolada que, a certa altura do discurso, declara – não exatamente com estas palavras:
“O mundo me exaure. Não tenho capacidade física nem psicológica para lidar mais com desgraças. Na idade em que estou, prefiro me alienar.”
Então, para corroborar a tese, leio postagem em rede social de viúva de famoso teatrólogo – “Todos os dias acordo com vontade de sentar pra chorar no meio fio.” – à qual se segue o seguinte comentário da internauta imersa em su tinta:
“Eu procuro me afastar quando sinto que não dá mais pra suportar. Tem dia que fico longe de tudo para não abalar minha sensibilidade artística.”
Pois é. Que o mundo é um osso duro de roer e que 2020 tornou-o ainda mais grosseiro, ninguém há de negar. Também eu tenho frequentemente desligado a TV e afundado a cabeça na terra como o avestruz que assim o faz para melhor perceber a aproximação do inimigo e, quem sabe, conseguir escapar ileso.
Mas e o mendigo que passa desfilando sua miséria atroz – conseguimos dele escapar ilesos?
Outro dia, no caixa eletrônico do banco – eu e outros pequenos burgueses sacando pequenas notas –, um cidadão anunciou:
“Por favor, alguém tem algum dinheiro pra me dar? Perdi meu Bilhete Único, estou sem ter como voltar pra casa.”
Sensibilizado com a desculpa esfarrapada ou verdade maltrapilha, desafundei a cabeça da terra e molhei cinco reais em sua mão, recuperando de pronto a estrofe de Fernando Pessoa em heterônimo de Álvaro de Campos:
“Cruzou por mim/veio dar comigo numa rua da Baixa/aquele homem mal vestido/pedinte por profissão que se lhe vê na cara/que simpatiza comigo/e eu simpatizo com ele/E, reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha/exceto, naturalmente, o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro/não sou parvo, nem romancista russo, aplicado/e romantismo sim, mas devagar”
Ser ou não ser solidário – esta é que é a questão.
A síndica idosa do prédio de minha mãe todo dia desce à portaria para colher esmolas – se não pecuniárias, afetivas. Ela se contenta com migalhas: um “boa tarde”, um “que dia quente, não?”, um “como vai a senhora?” para que ela possa aproveitar a deixa e dar a sua fala predileta:
“Vai-se indo, meu filho, vai-se indo. Só eu sei as dores que eu carrego.”
É uma personagem trágica de Racine: uma Fedra de camisola e chinelo.
Estamos todos representando um papel no enorme teatro do mundo? Se sim, o que a minha trama tem a ver com a sua? As malhas de nossos enredos estão inevitável e incomodamente entrelaçadas? O migrante que está morrendo agora no mar Mediterrâneo altera em alguma coisa o meu destino? Podemos ser meros espectadores?
Todas essas perguntas a vida lança no ar como flechas sem alvo. Ficam esses ganchos de interrogação onde nos penduramos escorregando. Mas novo ano começa e é preciso renovar a fé na parada. Afinal, todo mundo sabe, a esperança é a primeira que nasce. Embalemo-la, pois.
Texto: Rodrigo Murat é escritor
Imagem de S. Hermann & F. Richter por Pixabay