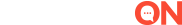O AMOR É OSSO
Quando a gente pensa que já viu tudo o que era possível em matéria de filme de amor e que o assunto está esgotado, eis que surge um título capaz de surpreender e de reintroduzir a sensação de novidade.
“Até os Ossos”, de Luca Guadagnino, arrebatou os prêmios de direção e de atriz revelação para Taylor Russell no último Festival de Veneza, em setembro. O longa de 2017 do diretor italiano – “Me Chame Pelo Seu Nome” – já tinha elevado seu nome para o rol da fama ao levar para casa o Oscar de Roteiro Adaptado, entre outras láureas festivais afora.
No caso de “Até os Ossos”, trata-se também de uma adaptação – no caso, do romance homônimo de Camille DeAngelis, que será lançado este mês no Brasil pela editora Suma de Letras – e que conta em seu elenco com o mesmo ator protagonista de “Me Chame Pelo seu Nome”: o ótimo Timothée Chalamet.
O filme – que no original se chama “Bones And All” – é uma história de amor com pinceladas de terror, ou melhor: uma história de terror com pinceladas de amor. A jovem Maren, sozinha no mundo depois de ter sido abandonada por um pai que não soube lidar com a filha canibal que desde cedo mostrou seus dotes perversos ao abocanhar uma babá, percorre os Estados Unidos em busca do paradeiro da mãe. No caminho, cruza com diversos tipos bizarros – entre eles o canibal sênior Sully, que lhe ensina que gente que gosta de comer gente se reconhece pelo cheiro – até encontrar Lee – um jovem de calça jeans rasgada e cabelo rosa com a mesma espécie de tara. Eles se farejam dentro de um mercado, se reconhecem, se atraem, se tornam companheiros de viagem e carniça, para só, muitas cenas depois, virarem um casal normal. Lá pelas tantas, um diz pro outro: “Ok. Vamos ser gente”.
Há muitas sequências fortes e indigestas. O diretor não dá muitas tréguas para que o espectador respire e retorne à normalidade, e até mesmo quando se pensa que um final feliz despontou no horizonte, e que tudo caminha para uma solução água com açúcar, o bicho pega e a coisa fica pra lá de sanguínea e ambígua.
É tudo muito bem filmado. Todo mundo que aparece em cena é ótimo. O ator que faz Sully – Mark Rylance – ganha uma indicação pro Oscar a cada take, num exagero calculado de interpretação minimalista. O clima anos 80 – década em que se passa a ação – é reforçado por canções como “Save a Prayer”, do Duran Duran. Mas não. Os jovens pecadores não serão salvos, exceto por um plano final esperançoso.
Foi interessante a experiência de assistir ao filme numa sala de 239 lugares ocupados por menos de 10 pessoas na noite da antevéspera de Natal, onde quase todos em casa combinavam felizes a decoração das árvores. Aumentou a sensação de medo e de estranhamento. É como se eu fizesse parte daquele grupo à margem, ou como se, a qualquer momento, fosse aparecer alguém na fila de trás do cinema e comer o lóbulo da minha orelha. Eu era uma ilha de carne cercada de poltronas vazias por todos os lados.
Saí do cinema estonteado. Entrei no metrô com o filme passando na cabeça de trás pra frente, de cima pra baixo, às cambalhotas. Cada garota na plataforma me parecia ser uma Maren: uma jovem comum, igual a tantas, com uma mochila às costas e um segredo n´alma.
Lembro de outras vezes em que saí do cinema com essa sensação do filme ainda estar sendo projetado dentro de mim. Quando vi “Retratos da Vida”, do Claude Lelouch, andei pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana como se o Bolero de Ravel – que eu nunca tinha ouvido e que o Jorge Donn dança na sequência final naquele crescendo interminável de acordes – continuasse ritmando meus passos e todos pudessem ver que eu havia passado por uma experiência mágica. Hoje nem gosto tanto do filme, mas na época o revi várias vezes.
“De Olhos Bem Fechados”, o último do Kubrick que eu aguardei com ansiedade por anos e que assisti na primeira oportunidade numa pré-estreia, também me fez sair do cinema com essa sensação de alheamento, como se eu não pertencesse muito ao mundo físico real e estivesse em choque com aquela proposta final que a Nicole Kidman faz para o Tom Cruise.
O mesmo com “A Professora de Piano”, de Michael Haneke, em que, na última cena, uma Isabelle Huppert ensandecida sai de um teatro, se apunhala no ombro e segue andando resoluta como se nada tivesse acontecido.
Cinéfilos carnívoros de imagens, canibais devoradores de frames, de vez em quando nos deparamos com filmes que nos arrancam um pedaço do corpo, da alma, do pensamento, ou que se imprimem na memória e jamais são esquecidos.
Rodrigo Murat é escritor