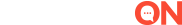O ANO EM QUE MEUS LIVROS SAIRIAM DE FÉRIAS
O ANO EM QUE MEUS LIVROS SAIRIAM DE FÉRIAS
Quando 2020 começou, eu estava com o falso propósito de passar 365 dias sabáticos sem comprar nenhum novo livro para poder me dedicar com calma à fruição de títulos já adquiridos e tantas vezes apressadamente lidos. Comentei com uma amiga e ela riu: “Até parece”. De fato, não duraria um mês o meu projeto vintage.
Logo em janeiro, retirei da estante duas pilhas desses meus amigos de papel e recorri a um sebo na intenção de vendê-los. Não tanto pelo dinheiro – livros usados valem menos que bananas –, e sim pela vontade de fazê-los
circular. Foi-se o tempo em que eu acalentava a ideia de passar uma vida amealhando exemplares para chegar à idade provecta com uma biblioteca robusta à la José Mindlin entre a cama e o closet. Livros envelhecem, amarelecem, se putrefazem; livros, como os homens, morrem, e é preciso saber desapegar-se.
O que aconteceu foi que, ao adentrar a livraria e me deparar com duas edições caprichadas de “Os Miseráveis”, do Hugo, e de “David Copperfield”, do Dickens, ambas da extinta editora Cosac Naify, não resisti e acertei com meus
botões: “bem, serão só esses dois e o resto do ano eu passo revisitando os antigos.” Troquei, então, os cachos de banana pelo par de clássicos, e voltei pra casa todo pimpão na certeza da felicidade adquirida.
O que me impulsionou a ler “Os Miseráveis” foi o filme homônimo de Ladj Ly que termina com uma citação extraída do Livro Quinto – “Meus amigos, guardem bem isto: não existem homens maus ou ervas más. O que há é maus cultivadores”. Infelizmente, o livro alterna capítulos impactantes com outros tediosos, e eu morri na praia do segundo volume afogado no mar de caracteres.
Do “Copperfield”, eu tinha a lembrança de tê-lo lido na infância e de ter me apaixonado. Mas era uma versão reduzida, adaptada para público infantojuvenil, e sem os inúmeros vaivéns da longa trama sinuosa. O fato é que
atravessei 1.200 páginas de papel bíblia em busca do enlevo perdido e não consegui reencontrá-lo. Nada contra o Hugo nem o Dickens. Eu que provavelmente não estou à altura deles.
O início da quarentena em março me pegou com a boca na botija. Eu já vinha devorando todas as resenhas literárias e fazendo a minha lista de prioridades: “O Teatro de Gerald Thomas”, “Pirandello em 5 atos”, “Complexo de Portnoy”, “Não Diga que a Canção Está Perdida”, “Romance de Formação”, “Porque o Tempo Voa”. Comprei todos e li-os com a pressa habitual.
Com o vírus pipocando em todas as mídias, sucumbi à curiosidade epidemiológica e baixei da prateleira “A Peste” do Camus, emendando-o com “No Contágio”, de Paolo Giordano, livro sobre a atual pandemia editado à toque de caixa, e com o “Diário do Ano da Peste”, de Daniel Defoe, no qual empaquei de cara, talvez por estar empapuçado do tema.
Um programa de TV me acendeu a urgência de ler Mark Twain. Optei pelo pequenino mas denso “O Homem Que Corrompeu Hadleyburg”, da onde extrai a seguinte pérola: “O problema não é o mundo estar cheio de tolos, mas do conhecimento não ser distribuído equanimemente.”
Seguindo a linha diet de livros frugais, fui de “Sobre a Estupidez”, de Robert Musil, no qual sublinhei: “Não há nenhum pensamento importante que a estupidez não saiba aplicar, ela se move em todas as direções e pode vestir todas as roupas da verdade. A verdade, ao contrário, tem apenas uma roupa em qualquer ocasião, um só caminho, e sempre está em desvantagem.”
Ler muitos livros ao mesmo tempo é como entrar num labirinto, e, quando eu dei por mim, eu estava perdido numa estepe russa.
_____
continua na próxima semana
Rodrigo Murat é escritor e escreve no blog rodrigomurat.wordpress.com